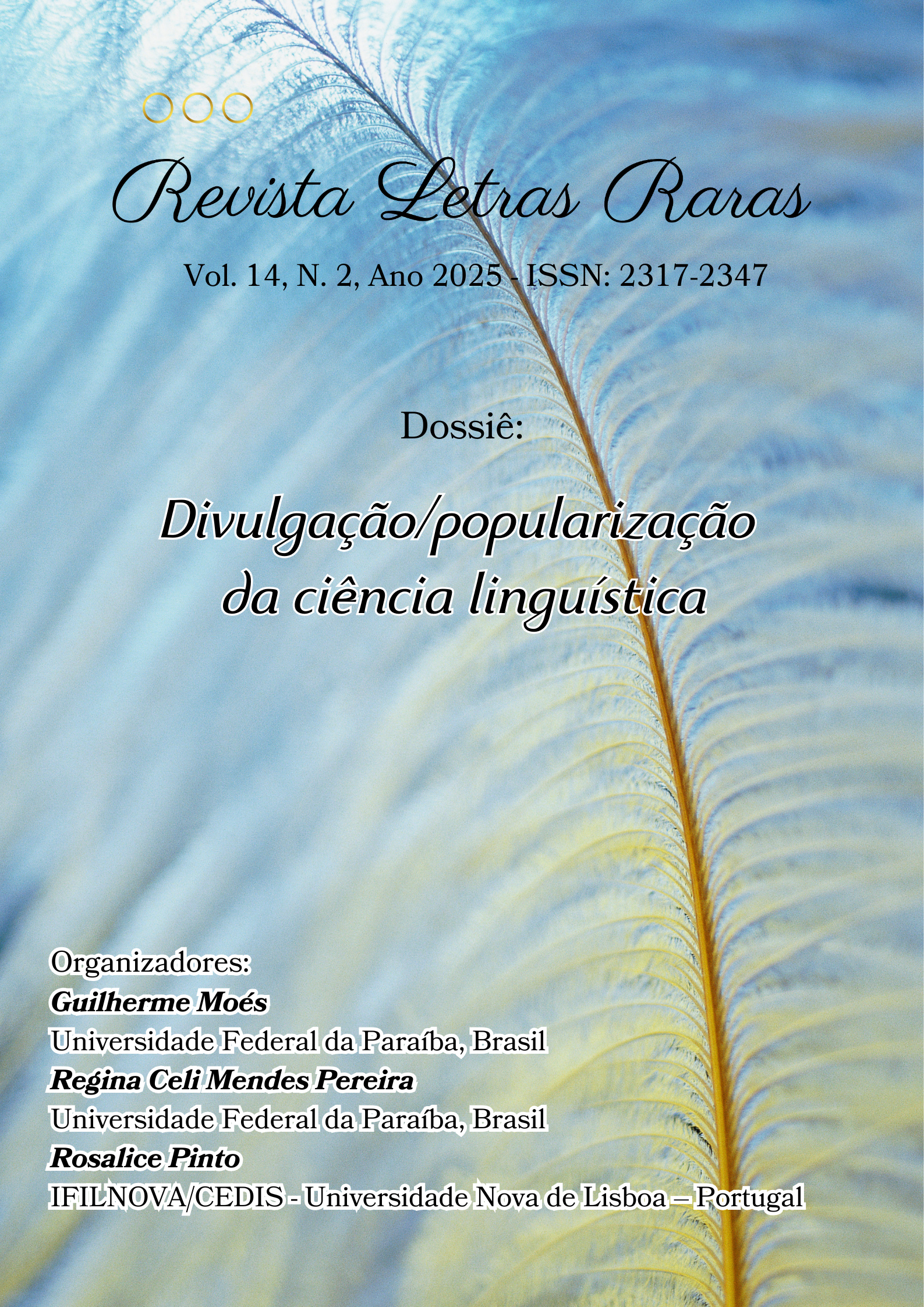A divulgação científica dos estudos gramaticais de línguas indígenas e sua contribuição para a consciência metalinguística
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.15708006Palavras-chave:
Divulgação científica, Línguas indígenas, Estudos gramaticais, Alfabetização científica, Consciência metalinguísticaResumo
O objetivo central deste artigo é mostrar de que forma a divulgação científica de estudos gramaticais de línguas indígenas pode contribuir para o desenvolvimento da consciência metalinguística dos falantes de português em sua língua materna. Para isso, baseamos nosso texto em duas frentes: inicialmente, contextualizaremos o estudo de línguas indígenas trazendo dados gramaticais de quatro línguas: Makuxi (Karib), Kaingang (Macro-Jê), Ticuna (isolada) e Karitiana (Tupi). Discutimos, nesses estudos, aspectos da fonologia, da morfologia, da sintaxe e da semântica dessas línguas. Posteriormente, apresentaremos discussões acerca da divulgação científica da Linguística no cenário brasileiro. Por meio da combinação dessas duas áreas do conhecimento, propomos que façamos, enquanto linguistas, a inserção do objetivo voltado para o desenvolvimento de consciência metalinguística nas estratégias de divulgação científica da nossa área. A nossa estratégia para isso é que adotemos as línguas indígenas como ferramentas de popularização. Antes de concluir o artigo, apresentamos a proposta de um exercício e de uma postagem em rede social como ilustração para uma agenda de trabalho que esteja preocupada com a popularização da linguística e a formação de divulgadores pelo país. Assim, defendemos que um trabalho como este, que visa disseminar estudos gramaticais de línguas indígenas para o desenvolvimento da consciência metalinguística de falantes do português em sua língua materna, pode contribuir para a alfabetização científica da população, para o contexto educacional, sobretudo na relação com a escrita.
Downloads
Referências
ANTONO, G., MAKUSI, F. F. M.; COSTA, I.C.; LIMA, S. Pluractionality of events in Macuxi: a morpho-syntactic and semantic analysis. Languages 8(4), 225, p. 1-16. 2023.
BARONAS, R. L. Da necessidade premente de se cometer uma política de divulgação científica qualificada dos trabalhos da lingüística do Brasil. Revista da Anpoll, v. 1, n. 29, 2010.
BAUMGARTEN, M. Divulgação e Comunicação pública de Ciência e Tecnologia. IV Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Sociedade. In: Anais do IV Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Sociedade, Curitiba, 2011, p. 1 – 9.
BUENO, W. C.. Comunicação científica e divulgação científica: aproximações e rupturas conceituais. Informação & Informação, v. 15, n. 1esp, p. 1-12, 2010.
CAGLIARI, L.C. Aspectos Teóricos da Ortografia. In: SILVA, M. (org.) Ortografia da Língua Portuguesa: história, discurso, representações. São Paulo: Contexto, 2009.
CARVALHO NETO (ATCHIGÜCÜ), D. Formas linguísticas em Ticuna de apontar e conhecer: narrativas e prática escolar. Dissertação de Mestrado em Linguística e Línguas Indígenas, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.
CRISTOVÃO, V. L. L.; FERREIRA, L.; CARDOSO, I.; PEREIRA, L.; AMBRÓSIO, S. Uma cartografia da divulgação científica em ciências da linguagem no Brasil e em Portugal. DIACRÍTICA, Vol. 37, n.º 1, 2023, pp. 284–309. DOI: doi.org/10.21814/diacritica.5400
CUNHA, C. M. (2004). Um estudo de fonologia da língua Makuxi (Karib): Interrelações das teorias fonológicas. Tese de doutorado, Universidade Estadual de Campinas.
D'ALMEIDA, D. H. S; HOCHSPRUNG, V.; GUESSER, S.; QUAREZEMIN, S. O redobro pronominal no final de sentenças na fala manauara: estratégias de divulgação científica e popularização da linguística. In: OLIVEIRA, L. C. et al (org.). Letras Pós-Humanas: Linguística e Ensino de Línguas como Questão. Campinas: Pontes Editores, 2024.
DE CONTO, L.; SANCHEZ-MENDES, L.; RIGATTI, P. C. Quando o falante faz Linguística. Cadernos de Linguística, v. 3, n. 2, p. e653-e653, 2022.
FARACO, C. A. Carlos Alberto Faraco. In: XAVIER, A. C.; CORTEZ, S. (Orgs.) Conversas com linguistas: virtudes e controvérsias da linguística. São Paulo: Parábola, 2023.
FRANCHETTO, B. A guerra dos alfabetos: os povos indígenas na fronteira entre o oral e o escrito. MANA 14(1), p. 31-59, 2008.
FRANCHETTO, B. (Ed.) Revista LinguiStica, no 13, volume 1, 2017.
FRANCHI, C. Criatividade e gramática. Trabalhos em Linguística Aplicada, n. 9, p. 5-45, 1987.
FRANCHI, C. A. Criatividade e gramática. In: FRANCHI, C. A.; NEGRÃO, E.; MULLER, A. L. Mas o que é mesmo “gramática”? São Paulo: Parábola, 2006. p. 34-101.
GAWNE, L.; MCCULLOCH, G. Communicating about linguistics using lingcomm‐driven evidence: Lingthusiasm podcast as a case study. Language and Linguistics Compass, v. 17, n. 5, 2023.
HOCHSPRUNG, V. Divulgação científica: notas sobre a popularização da linguística na internet e na sala de aula. In: SILBALDO, M. Ensino de línguas: propostas e relatos de experiência. São Paulo: Bluscher, 2023.
HOCHSPRUNG, V. O ‘big brother brasil ’como ponto de partida para a divulgação científica e a popularização da linguística. Revista do EDICC-ISSN 2317-3815, v. 9, 2023.
HOCHSPRUNG, V. A consciência sintática de professores a respeito do sujeito do português brasileiro. Dissertação de mestrado. Florianópolis: UFSC, 2022.
HONDA, M. et al. On promoting linguistics literacy: Bringing language science to the English classroom. In: DENHAM, K; LOBECK, A. (Eds.). Linguistics at school: language awareness in primary and secondary education. Cambridge University Press, 2010. p. 175-188.
LABOV, W. The social stratification of English in New York City. Arlington, VA: Center for Applied Linguistics, 1966.
LIMA, S. O. Plurality and distributivity in Juruna: some considerations about verbal cumulativity. In: 4th Conference on the Semantics of Underrepresented Languages in the Americas, 2007, São Paulo. UMOP 35: Proceedings of the 4th Conference on the Semantics of Underrepresented Languages in the Americas. Amherst: UMOP Publications, 2007.
LYNNE MURPHY, M. Blogging and microblogging linguistics for the lay reader. In: PRINCE, H. MCINTYRE, D. (Eds.) Communicating Linguistics. Routledge, 2023. p. 38-48.MAIA, M. (org.). Psicolinguística e Metacognição na Escola. Campinas: Mercado de Letras, 2019.
MARTIN, L. "Eskimo words for snow": A case study in the genesis and decay of an anthropological example. American Anthropologist 88, 2 (June), p. 418-423, 1986.
MOORE, D. Línguas indígenas. In: MELLO, H.; ALTENHOFEN, C.; RASO T. (orgs.) Os contatos linguísticos no Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG. 2011. p. 217-239.
MÜLLER, A.; STORTO, L.; COUTINHO-SILVA, T. Número e a Distinção Contável-Massivo em Karitiana. Revista da Abralin, v. 5, p. 185-213, 2006.
MÜLLER, A.; SANCHEZ-MENDES, L. Pluractionality in Karitiana. In: GRøNN, A. (Ed.) Proceedings of SuB12, Oslo, 2007, p. 442-454.
MÜLLER, A.; SANCHEZ-MENDES, L. Pluractionality: the phenomenum, the issues and a case study. In: GUTZMANN, D.; MATTHEWSON, L.; MÉIER, C.; RULLMANNM H.; ZIMMERMANN, T. E. (eds.) The Wiley Blackwell Companion to Semantics. Oxford: Wiley, 2021.
NASCIMENTO, M. Evidencialidade em Kaigang: descrição, processamento e aquisição. Tese de doutorado, UFRJ. 2017.
OTHERO, G. A. Mitos de Linguagem. São Paulo: Editora Parábola, 2017.
PILATI, E. Aprendizagem Linguística Ativa: da teoria à gramaticoteca. Campinas: Pontes Editores, 2024.
PULLUM, G.K. Topic...Comment. Natural Language and Linguistic Theory 7, p. 275–281, 1989.
RAPOSO, C.A.; CRUZ, SOUSA, M.O. Dicionário da Língua Makuxi. 2. ed. rev. ampl. Boa Vista: Editora da UFRR, 2016.PARTEE, B.; BACH, E.; KRATZER, A. Quantification: A Cross-Linguistic Perspective. Amherst: UMass, 1987.
PIRES DE OLIVEIRA, R.; QUAREZEMIN, S. Gramáticas na escola. Petrópolis: Vozes, 2016.
PIRES MARTINS, R. Políticas públicas de popularização da ciência no Brasil: perfil de atividades realizadas de 2003 a 2015 por meio do CNPq e intersecções entre ciência, educação e desenvolvimento territorial sustentável. Dissertação (Mestrado). Matinhos: UFPR-Litoral, 2018
RODRIGUES, A.D. Línguas Indígenas: 500 anos de descobertas e perdas. DELTA. V.9, n.1, p. 83-103, 1993.
RODRIGUES, A.D. Sobre as línguas indígenas e sua pesquisa no Brasil. Ciência e Cultura, v. 57. N. 2, p. 35-38, 2005.
SAMPAIO, T. O. M. Onde estão os Linguistas na Divulgação Científica Brasileira?. Revista do EDICC-ISSN 2317-3815, v. 5, 2018.
SAMPAIO, T. A importância da divulgação científica da Linguística e entrevista com o canal Enchendo Linguística. Revista Linguística Rio, 3(1), 2017.
SANCHEZ-MENDES, L. Número Verbal. In: MÜLLER, A.; STORTO, L. (Orgs.). Material de Apoio ao Estudo da Gramática da Língua Karitiana. São Paulo: Paulistana, 2017. v. 1. p. 9-18.
SANCHEZ-MENDES, L. Contribuições da Semântica Formal para o ensino de língua materna: o componente semântico como elo entre gramática e texto/discurso. In: FERREIRA, L. F.; FRUTOS, L.; COELHO, O. (orgs.) Jornada pelos significados: contribuições de Ana Müller para a semântica. Campinas, Pontes Editores, 2024. p. 145-178.
SANDALO, F. Conjunto de problemas 5: Formação de substantivos plurais em Kadiwéu. In: LARSON, R.; HONDA, M. Ensino de Língua(s) como ciência da Educação Básica (Curso). XXV Instituto da Abralin, Curitiba, 2023.
TECARI NETO, A. Constituência sintática, ambiguidade estrutural e aula de português: o lugar da teoria gramatical no ensino e na formação do professor. Working papers em Linguística, v. 18, n. 2, p. 129-152, 2017.
TREULIEB, L. Menu de ideias: Como fazer divulgação científica nas novas mídias das universidades? Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Comunicação (USCS), 2020.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 Revista Letras Raras

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.